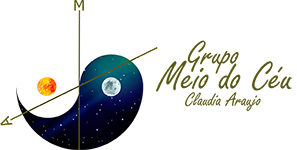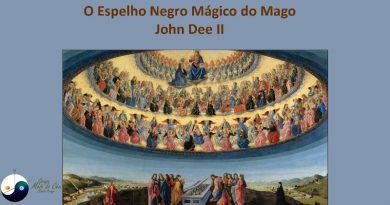PESSOA E A VISÃO GNÓSTICA DO TEMPO III
PESSOA E A VISÃO GNÓSTICA DO TEMPO III
autor : Armando Nascimento Rosa
Pessoa mostra, ao modo de oxímoro, como as pretensões de Platão se derrotam e se cumprem em simultâneo:
O ser que as palavras dizem é uma longa cadeia de ficções, mas é só por intermédio das ficções, que as
palavras configuram, que enfim podemos conhecer e comunicar a verdade dos embustes que pensamos.
Daí que, em Pessoa, a poesia demonstre ser mais fiel à natureza da linguagem do que a filosofia, pois a palavra poética amplia na linguagem aquilo que a constitui.
Isto é, a sua capacidade de fingir, de metaforizar e edificar simulacros.
E resta ajuizar se a eufórica saúde humana não preferirá sempre a expressiva aparência deleitosa ou terrível
da poesia à crua descoberta perceptiva de um vazio nirvânico sob a máscara abstracta da pulsão filosófica.
Não é em vão que esse divórcio é consumado por um Platão pitagórico:
Quando à vitalidade sensível e demencial da inspiração poética, ele opõe a pesquisa filosófica como uma ascética aprendizagem para a morte.
Consciente dessa cisão, a criação literária pessoana alimenta-se de uma ansiedade.
Ansiedade essa que reúne poesia dramática e filosofia numa estratégia de intensificação interrogativa,
trágica porque, ao contrário de Édipo, a Esfinge devorará o questionador, por mais brilhantes que sejam as
respostas que este enunciar.
Por isso ele não as termina.
Deixando as obras inconclusas para o formato livro, numa espécie de compulsivo complexo de Xeraazade: escrever sempre, interminamente, para adiar ou distrair a morte.
Ansiedade que pode entender-se pelo prisma da teoria bloomiana da influência, na apropriação simbólica
que o poeta faz dos poderes míticos de Proteu, numa disputa edipiana com Shakespeare, jamais querendo
cristalizar-se definitivamente numa perspectiva fixa, mau grado os fios latentes que fazem da legião
heteronímica uma irmandade hídrica de cabeças com corpo único.
Essa instabilidade essencial das perspectivas, que o autor desejou fazer sua,
regulada pelas inescrutáveis leis do caos, é válida igualmente para decompor o veneno sublime que o leitor ingere com as palavras do ortónimo poema Natal:
Bem podem ser os nossos deuses só palavras, mas as palavras do poema dizem-nos quão devastador pode tornar-se o efeito dos conteúdos que elas transportam consigo;
Pois algo do verbo pré-babélico do princípio do tempo nelas é resíduo ainda, Pessoa assim o crê, ou não teria ele escrito tanto no tempo intenso do seu existir.
No valor ontológico do verbo esconde-se para ele o segredo maior ao alcance humano.
Um ouro alquímico anterior à Queda, por isso apto a exercer uma acção efectiva, psicotransformante.
Leiam-se as três estrofes com que se encerra o poema em quintilhas («Sangra-me o coração. Tudo que penso»), já atrás citado.
Aí, entre um espelhismo mortuário operado entre Deus e este mundo como cadáver d’Ele (num processo de
putrefactio alquímica), revela-nos o poeta que, pelo Verbo, o humano resgata (e ressuscita) a identidade
originária de Deus, anterior ao declínio cósmico que corresponde ao império do tempo, da morte e do mal.
«O mundo é Deus que é morto, e a alma aquele
Que, esse Deus exumado, reflectiu
A morte e a exumação que houveram dele.
Mas ‘stá perdido o selo com que sele
Seu pacto com o vivo que caiu.
Por isso, em sombra e natural desgraça,
Tem que buscar aquilo que perdeu –
Não ela, mas a morte que a repassa,
E vem achar no Verbo a fé e a graça –
A nova vida do que já morreu.
Porque o Verbo é quem Deus era primeiro,
Antes que a morte, que o tornou o mundo,
Corrompesse de mal o mundo inteiro:
E assim no Verbo, que é o Deus terceiro,
A alma volve ao Bem que é o seu fundo.» 12
Sob a mesma luz com que se invoca,
a escrita descobre-se como tarefa salvífica que permite à consciência percepcionar o espírito interno que nela lateja, cativo, de outra forma indiscernível.
Ao distinguir as diferentes temporalidades helénica, cristã e gnóstica, Henri-Charles Puech projecta em
alegoria geométrica o carácter descontínuo da vivência gnóstica do tempo, sujeito à ruptura liberadora,
que coincide com esta auto-descoberta da flâmula subjectiva iluminante.
«Pela exigência de uma salvação imediata, [o gnosticismo] rompe com a
servidão e a repetição do tempo cíclico do helenismo, bem como com a
continuidade orgânica do tempo unilinear do cristianismo; ela fará voar
em estilhaços (a palavra não é demasiado forte) um e outro.
Em termos mais breves e mais figurados, a partida joga-se entre três
concepções opostas, onde o tempo pode ser representado
respectivamente, na primeira por um círculo, na segunda por uma linha
recta, na terceira, enfim, por uma linha quebrada.» 13
A linha quebrada do tempo gnóstico, tal como este é experienciado pelo sujeito, manifesta não só a conquista
solar volitiva de um saber e o desejo imperioso do auto-reconhecimento que é redenção vivida, mas também
a atormentada dúvida lunar;
A suspensão do eu no tempo reflexivo que busca:
Ou uma clarabóia nos túneis enganosos do mundo demiúrgico material ou, por outro lado, fugir à crença acrítica em falsos ídolos anestesiantes do intelecto.
Seja qual for a modalidade prevalecente, a experiência religiosa gnóstica do tempo jamais será um caminho simples e previsível.
Isto, pois nela tudo se perde quando se julga ter sido tudo ganho – numa analogia que podemos encontrar
mimetizada estética, ritual e psicoterapeuticamente nas tibetanas mandalas de areia, que, por mais
maravilhosas e complexas, se desfazem com um sopro.
A travessia desse caminho virtual não termina na morte física.
Já que os condicionalismos de cada vida – sujeitos que estão à temporalidade externa – dificilmente terão meios amplos e aptos a esgotar os requisitos transumanos do périplo transmigrante.
Esse cosmodrama no qual vamos sucessivamente vestindo novos figurinos psicofísicos.
Numa das suas mais recentes leituras da poética pessoana (Tempo e Melancolia em Fernando Pessoa, 1997),
Eduardo Lourenço analisa esta imortalidade atemporal, neoplatónica e gnóstica, tendo em mente os poemas
iniciáticos ortónimos.
«Por ser naturalmente “divina”, a alma é naturalmente imortal, isto é, fora do tempo.
Tempo e espaço são as formas originais da queda da alma no corpo.
São o próprio corpo, incapaz de se pensar como alma, como manifestação
primordial da unidade, única realidade, mesmo que não possamos
pensá-la senão na ordem da pura ausência.» 14
O suposto estádio kármico excepcional atingido pela pessoana centelha demonstraria prometeicamente a
insuficiência gnoseológica da vida que é a nossa, condicionada pelo espaço e pelo tempo.
Paredes celulares de um calabouço no qual o nosso eu profundo se debate, enviando sinais transformativos,
como sintomatologias cuja angústia a ampliação gnóstica da consciência deverá procurar descodificar.
Tanto por uma cognição introspectiva individuada, quanto pela imaginação intuitiva transpessoal
(e daí ter Jung registado a revitalização de um olhar civilizacional com contornos gnósticos que a psicologia do
inconsciente a partir de Freud teria desencadeado na cultura contemporânea).
E o exercício da cognição imaginante é um vector de liberação gnóstica que arranca o sujeito à submissão
absoluta diante da literalidade fenoménica ‘hiper-realista’ do vivido, denunciando-lhe o quanto esse jugo é
uma ilusão intensificada pelo tempo;
Essa falácia a que nesta existência não nos podemos livrar a não ser pelo escape a esse despotismo arcôntico inscrito na literalidade do mundo físico.
Pioneira na investigação e interpretação do esoterismo
pessoano, Yvette Centeno anota essa ânsia de fuga do poeta
gnóstico.
Acossado pelo aguilhão hierológico que o leva a perseguir um saber-outro que ultrapasse as miragens
gnoseológicas que a nossa comum condição vivente, pensante e sentiente nos outorga:
«A par da escrita heteronímica desenvolve-se em segredo uma escrita ortónima, fragmentária (…).
Por ela podemos ver como ao longo da vida se foi operando a busca obsessiva, contínua, se bem que não sucedida. O universo fecha-se-lhe, como se fechou a Fausto, e a Deus não se chegará nunca.» 15
Mas se na discursividade de um Campos o vislumbre de Deus é negativo, ou, assim como nos casos de Mora
e Caeiro a imanência panteísta seja soberana na imagem desses deuses pluriformes que são todos os seres
empíricos;
Já poesia há, ortónima, a testemunhar uma positividade, mesmo que paradoxal, na intuição de uma divina
transcendência, longínqua, que incumbe o poeta de uma missão extraordinária.
Missão da qual Pessoa se afirma constante e obsessivamente consciente,
sobrevalorizando o tempo da sua vida ao tomá-lo como um precioso bem que não pode desbaratar.
Nem na prossecução de uma actividade profissional que o ocupe em excesso, nem, menos ainda, na hipótese, logo posta de parte, de um casamento com Ofélia.
«Há um poeta em mim que Deus me disse…» 16
Dir-se-ia que este Deus funciona na vida e obra pessoanas como o fantasma do pai de Hamlet, introduzindo um dilacerado dramatismo no tempo vital que percorre.
Enquanto Hamlet hesita febrilmente até cumprir o pedido do pai, e ao matar por fim o tio morrerá junto com ele,
assim também Pessoa se vê compelido por um rei desconhecido a aniquilar a vida em si, para num serviço sacrificial se oferecer na obra alquímica do verbo à humanidade vindoura (num processo que nos permitiu identificar um psicomítico complexo de Inês; isto é, a pulsão de reinar depois de morrer, tão comum entre criadores, incompreendidos ou silenciados no seu tempo de vida 17).
Mas esse oculto rei de que falam os versos de Pessoa não tem ascendência familiar ou dinástica sobre a esfera dos mortais, pois nele vemos a personificação do Deus gnóstico.
Deus esse que remete o sujeito para o que nele perdura para além das fronteiras do tempo existencial do indivíduo.
A criação artística ou a acção virtuosa desenrolam-se sob o regime de uma outra lei que não a da natureza biológica, um tempo outro que não o da vida orgânica;
Um conselho profundo que Pessoa dirige a todos nós diz isto de forma inigualável, e avistamos nessa sentença o farol de sentido que alumiou o caminho do poeta.
«Tu és tudo o que a vida não é; o que de bom e de belo se souber deixar e não existe.» 18
Mas como aceitar que o bom e o belo não existem se podem ser marcas que permanecem, deixadas pela nossa passagem através da vida?
Afigura-se-nos uma resposta: porque este não existir deve compreender-se como concernente àquele tipo de realidades que se evadem à tirania do tempo.
Colocando o sujeito humano em contacto com experiências evanescentes que não pertencem intrinsecamente à «Cruz Morta do Mundo». 19
A qualificação ontológica deste não existir em concretude surge frequentemente em textos pessoanos.
E já que falávamos do rei metafórico de que ele se diz enviado, é oportuno ora referir um dos mais famosos, e citados, sonetos seus – musicado por Milton Nascimento -, o XIII do ciclo Passos da Cruz, que assim principia:
«Emissário de um rei desconhecido,
Eu cumpro informes instruções de além,
(…)»
Os dois tercetos finais explicitam exemplarmente o confronto mítico entre a atemporalidade originária antes da Criação e o tempo, que é apanágio do mundo após a queda.
«Não sei se existe o Rei que me mandou.
Minha missão será eu a esquecer,
Meu orgulho o deserto em que em mim estou…
Mas ah, eu sinto-me altas tradições
De antes de tempo e espaço e vida e ser…
Já viram Deus as minhas sensações…» 20
Repare-se na tensão antitética.
Esta resultante do não saber se existe o rei e o facto de um saber outro derivar de o sujeito poético ter visto esse Deus – com o saber visual das sensações, que parecem dotadas de olhos inacessíveis à inteligibilidade objectiva.
Das sensações fez Pessoa uma metafísica – como o analisou José Gil -, tornando-as paradoxalmente numa fonte gnoseológica trans-sensorial;
Linguagem reveladora das emoções que, para o poeta, ultrapassam a limitada aridez do raciocínio dedutivo.
Mas interessa-nos agora reter a forma como o autor fala da anterioridade do eu mais profundo face ao tempo, ao espaço, à vida e ao ser.
Trata-se aqui do pressuposto gnóstico que sustenta ser cada uma das centelhas espirituais que nos animam tão antiga como o próprio Deus estrangeiro;
São elas congeniais d’Ele, seus pares menores, não criadas com as coisas materiais do cosmos que habitamos – e de entre essas coisas, a mais abstracta delas: o tempo, que as ordena e regula e nos aprisiona.
As altas tradições da letra do poema integram a gnose pois incluem as crenças órfico-pitagóricas na metempsicose, reformulada por Platão e tornada lugar-comum por teósofos lidos e traduzidos por Pessoa.
Na simbólica viagem do espírito entre os mundos,
momentos há de lembrança emotiva, de saudade gnosticamente percebida, que aproximam esse eu primevo de um tempo ancestral que é em si a negação do tempo, ou a suspensão dele.
Podemos lê-lo num fragmento incluído no Livro do Desassossego.
continua
Outros artigos interessantes deste mesmo autor:
- Alma, o que é?
- PESSOA E A VISÃO GNÓSTICA DO TEMPO I
- PESSOA E A VISÃO GNÓSTICA DO TEMPO II
- PESSOA E A VISÃO GNÓSTICA DO TEMPO IV
- PESSOA E A VISÃO GNÓSTICA DO TEMPO V
- PESSOA E A VISÃO GNÓSTICA DO TEMPO VI